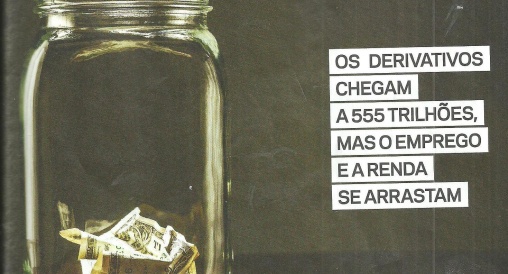
Na segunda-feira, 2, Nouriel Roubini, professor da NYU Stem School of Business, exaltado como profeta da crise, retratou um cenário econômico mundial taciturno. Entre as economias avançadas, os Estados Unidos experimentam dois trimestres de crescimento médio de 1%. O crescimento potencial na maioria dos países na Zona do Euro permanece bem abaixo de 1%. No Japão, a economia beira a recessão. No Reino Unido, as contratações e investimentos aguardam o referendo sobre a permanência na União Europeia. Outras economias desenvolvidas, como Canadá, Austrália e Noruega, sofrem com o flagelo da deflação nas commodities.
As coisas não estão melhores nas economias em desenvolvimento. Entre os cinco BRICS, o Brasil e a Rússia estão em recessão, a África do Sul mal cresce, a China experimenta uma aguda desaceleração estrutural e a Índia vai bem, apenas porque, nas palavras de seu presidente do banco central, Baghuram Rajan, “em terra de cego, caolho é rei”. Segundo Roubini, muitos outros mercados também desaceleram desde 2013, em razão do enfraquecimento das condições externas e da fragilidade econômica, o que exacerbou “o excesso de poupança global e a crise de investimentos”.
Assim, devemos permanecer por enquanto no que o FMI chama de “novo medíocre”, Larry Summers denomina “estagnação secular” e outros designam “novo normal”.
Paul Krugman cita Narayana Kocherlakota para afirmar que temos uma “economia diabética”, em uma comparação das baixas taxas de juros com as injeções de insulina prescritas aos que sofrem com excesso de glicose no sangue. Não fazem parte de uma vida normal e podem ter efeitos colaterais negativos, mas são necessárias para tratar os sinto— mas da doença crônica e, no caso da economia, a persistente fraqueza nos gastos.
O vencedor do Nobel de Economia reconhece uma lenta e tímida melhora desde 2008, mas afirma que o desemprego na Europa ainda inflige enormes danos políticos, sociais e humanos, e não há sinais de emersão desse embaraço. A apreensão acentua-se pelo receio de que, ante um novo choque, como outra crise grega, a saída do Reino Unido da União Europeia ou ainda a economia chinesa caindo do penhasco, ninguém parece ter ideia do que poderia ser feito para compensar o golpe.
Para Joseph Stiglitz, 2016 será um ano tão ruim quanto o de 2015, o pior desde a erupção da crise financeira em 2008, o que se relaciona com o fato de a maioria dos modelos, formais e mentais, empregados pelas autoridades monetárias estarem completamente errados: não previram a crise nem “foram capazes de restabelecer o pleno emprego. Segundo o também nobelizado, as grandes corporações estão sentadas em centenas de trilhão de dólares, pois já detêm capacidade ME em excesso. É um delírio acreditar que, nessas circunstâncias, as empresas construirão mais simplesmente porque a taxa de juros se moveu ligeiramente para baixo. Os bancos centrais deveriam voltar-se para o fluxo de crédito. O presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, tenta convencer o ministro alemão Schäuble: a economia europeia sofre a carência de demanda agregada.
Os mercados financeiros expelem bolhas afogados na liquidez, enquanto o gasto produtivo de consumo e investimento morre de sede. Em homenagem ao 400º aniversário de morte de Mi guel de Cervantes, a economia do emprego e renda marcha a passos de Roncinante, em descompasso com os preços dos ativos financeiros que voltam a disparar nas asas de Pégaso.
O paradoxo não se encaixa na simplória identidade entre poupança e investimento. A realidade salta aos olhos - a liquidez exuberante, taxas de juros negativas, ingurgitamento do caixa das empresas e bancos, o estoque de poupança financeira —, e não só convive como também estimula afalta de apetite pelo investimento. Na Disneylândia do pensamento hegemônico, os movimentos da economia como um todo devem respeitar os princípios de administração do orçamento familiar: os recursos que se destinam ao investimento vêm da parcela da renda poupada pela abstinência do consumo.
No mundo da economia como um to do em que os homens trabalham, ganham e sobrevivem, os orçamentos familiares dependem da disposição das empresas de gastar na produção de bens de investimento e de bens de consumo. Assim, os gastos de consumo das famílias dependem da renda criada pelo dispêndio das empresas, ao gerar empregos e mobilizar outras ocupações conexas.
O investimento é a variável determinante no processo de formação da renda e, portanto, da capacidade de consumo do assim chamado “público”.
A aquisição de meios de produção depende da perspectiva de expansão do mercado, ou seja, das estimativas dos empresários a respeito da evolução do consumo, o que envolve, simultaneamente, as avaliações dos empresários a respeito da disposição de seus pares de gastar na criação de emprego e da renda no setor de bens de produção.
Estudos do Bank for International Settlements e do Federal Reserve apontam de forma alarmante que a expansão da liquidez do quantitative easing financiou a aquisição de ativos já existentes, reais ou financeiros, como a recompra das próprias ações ou o aumento de recursos líquidos, afim de acumular ativos financeiros e reforçar balanços, em vez de financiar a aquisição de bens e serviços.
Novas bolhas de ativos. Nos arraiais da ciência econômica, os dogmas não se curvam à realidade. As pretensões de rigor formal preparam as exéquias do cuidado conceitual.
No artigo “O verdadeiro estado atual do sistema financeiro”, publicado no site ZeroHedge, integrantes do Phoenix Capital Research suspeitam do funcionamento de mentes que acreditaram na possibilidade de resolver um problema de dívida emitindo mais dívida. Em 2008, a bolha de bonds era de 80 trilhões de dólares, hoje supera os 100 trilhões. O mercado de derivativos que usa essa bolha de bonds como colateral supera 555 trilhões. As corporações hoje estão mais endividadas. Em 2007, os bonds das empresas americanas somavam 3,5 trilhões, hoje eles estão em 7 trilhões, perto de 50% do PIB. Os bancos centrais enfrentam os limites da política monetária para retirar a economia desse atoleiro, inundado por liquidez.




